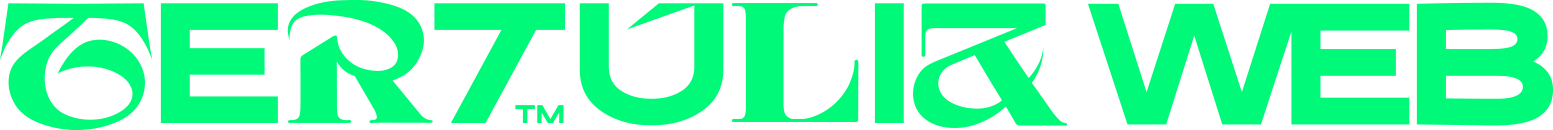Bem-vindo ao Admirável Mundo Novo. Timothy Geithner, secretário do Tesouro dos Estados Unidos, propõe ao Grupo dos 20 uma regra que limitaria a 4% do PIB os déficits ou superávits nacionais de conta corrente. O vice-chanceler da China, Cui Tiankai, responde que “a imposição artificial, de uma meta numérica, só nos lembra da era das economias planificadas”. Como ironia pouca é bobagem, a agência de classificação de risco chinesa Dagong reage à “flexibilização quantitativa”, rebaixando os títulos dos EUA de AA para A+ (nota igual à da Itália ou da própria China), com viés negativo.
Não adiantou os estadunidenses oferecerem isentar a Alemanha da regra, propondo considerar apenas a conta corrente do conjunto da União Europeia. O conservador ministro da Fazenda alemão, Wolfgang Schäuble, alinhou-se ao Partido Comunista Chinês: “O que os EUA acusam a China de fazer (manipulação do câmbio), eles o fazem por meios diferentes”. Considerou “inaceitável” a proposta de Washington de cotas de exportação.
O mundo não aceita engessar relações de força só para salvaguardar os interesses do governo de Barack Obama. A “nova proposta dos EUA divide o G-20”, dizia a manchete do Valor em 8 de novembro, mas na verdade opôs Washington a todo o resto do grupo. Índia, Brasil, China e países europeus acusam os EUA de minar o espírito de cooperação multilateral com ações unilaterais como a “flexibilização quantitativa” do Federal Reserve e a veem como mais uma bolha ameaçadora. Para encontrar um dirigente de Banco Central estrangeiro disposto a respaldá-la, foi preciso buscar Stanley Fischer em Israel, economia pequena e totalmente dependente dos EUA.
Seria menos difícil para os EUA se ao menos o próprio país estivesse coeso em torno de suas ações e propostas, mas não é o caso. A política de “dólar fraco” enfurece o Tea Party, que assusta o público com uma improvável inflação galopante. Sarah Palin, ecoando Glenn Beck e outros colegas da ultradireita, condenou a política do Fed por aumentar os preços do petróleo e das commodities, ou melhor, da gasolina e dos alimentos: “Todo mundo que faz compras em mercearias sabe que os preços subiram significativamente de um ano para cá (falso: a inflação é baixa). É como um imposto extra. E a pior parte: porque a Casa Branca de Obama se recusa a abrir nossas reservas de petróleo à exploração, a maior parte do dinheiro irá diretamente a regimes estrangeiros que não têm os melhores interesses dos EUA no coração”.
Além do elenco da Fox, também personalidades mais respeitadas em Washington saem da linha. Robert Zoellick, ex-subsecretário de Estado que Bush júnior conduziu à presidência do Banco Mundial, sugeriu no Financial Times que um Bretton Wo-ods II deveria considerar a restauração “modificada” do padrão-ouro, abandonado desde 1971, para balizar a inflação e as relações cambiais. Com o que o colega Paul Krugman considerou bondade excessiva, o economista liberal Bradford DeLong comentou: “Bob Zoellick disputa a coroa de o mais estúpido homem vivo”.
Para compreender o jogo, é preciso descartar o populismo conservador. Baseia-se na ingenuidade do leigo que, forçado a apertar os cintos pela crise, exige que o governo faça o mesmo e pensa que preços mais baixos são sempre melhores. Não entende que, em época de crise profunda e risco de deflação, o governo deveria gastar exatamente porque o consumidor não pode fazê-lo. Cortar simultaneamente a demanda pública e privada é receita certa para uma depressão muito mais grave.
Recomenda-se emitir dinheiro nesses casos não apesar do risco de inflação, mas para provocá-la. Queda geral dos preços é boa para o credor e para quem tem renda ou salário fixo (enquanto não o perder), mas ruim para a economia. Com deflação, o credor se acomoda, pois o dinheiro se valoriza sem que precise correr riscos – e o devedor, cada vez mais sobrecarregado, não consome nem investe. Com uma inflação moderada e previsível, a carga do devedor diminui, permitindo-lhe voltar a gastar e o credor é compelido a aceitar os riscos do investimento produtivo para não ter seu patrimônio desvalorizado. Nas últimas décadas, a meta de inflação dos principais bancos centrais não foi zero, mas perto de 2% ao ano. Atualmente é negativa no Japão e da ordem de 1% e caindo nos EUA. Ambos estão presos na armadilha da liquidez – situação em que as taxas de juro real e nominal tendem a zero e a política monetária tradicional não funciona – e precisariam de inflação em alta.
Liberais e keynesianos estadunidenses só criticam o Fed por timidez. Krugman escreveu que, “se fosse Bernanke”, explicitaria uma meta de inflação de 5% ao ano, ou 28% até 2015. Como o britânico Martin Wolf, editor do Financial Times, os defensores do Fed não temem que sua política seja desastrosa, mas que seja ineficaz. Insistem em que é boa para todo o mundo, como Barry Eichengreen, de Berkeley: -“Perguntaria aos meus amigos no Brasil: vocês estariam melhor se os EUA sofressem uma década perdida?”
O problema do argumento é que a resposta não é óbvia. O Fed está iniciando a compra de mais 600 bilhões de dólares em títulos de longo prazo de novembro de 2010 a junho de 2011 e uma injeção adicional de 300 bilhões com outros recursos, que se somam à flexibilização anterior que somou 1,75 trilhão do segundo semestre de 2009 ao primeiro deste ano. Mas o alto endividamento de empresas e consumidores e a insegurança do emprego continuam a privar a economia real dos EUA de oportunidades lucrativas de investimento.
Tais oportunidades poderiam ser criadas por gastos públicos e investimentos estatais em grande escala (ação que muitos países veriam com simpatia, apesar de aumentarem ainda mais a dívida de Washington), mas estes se tornaram politicamente inviá-veis. Sem essa iniciativa, a enxurrada de dólares tende a criar bolhas especulativas, riscos e desequilíbrios financeiros e comerciais para o resto do mundo sem conseguir tirar o país da estagnação. Como a China finca o pé em sua taxa de câmbio, o ônus recai sobre os demais países, do Japão e União Europeia ao Brasil e África do Sul.
Além disso, como o objetivo de Wash-ington é restaurar o equilíbrio de sua conta corrente, isso implica exportar mais ou importar menos, crescer como concorrente ou diminuir como mercado. Ou seja, não voltará tão cedo, mesmo que tenha sucesso, a desempenhar o papel de motor da demanda mundial que teve por 20 anos. Para o mundo exterior, a década dos EUA está perdida de qualquer maneira. A flexibilização quantitativa pode evitar ou adiar a deflação e dar fôlego a Wall Street e seus satélites, mas não traz benefícios claros para o resto do planeta e prejudica claramente países como o Brasil. O que é bom para os EUA não é necessariamente bom para o mundo.
E aos setores mais conservadores dos EUA não interessa amenizar a crise. Assim como as elites europeias, mas de maneira ainda mais radical, anseiam pela oportunidade de aproveitá-la para cortar salários e benefícios sociais e privatizar serviços sociais como saúde, educação e previdência. Além disso, enfatizam um risco menosprezado pelos liberais: o de que o Fed estique demais a corda e o dólar perca o status que hoje garante a hegemonia financeira dos EUA e de Wall Street. Ninguém sabe em que ponto isso aconteceria, mas crises de confiança podem ser imprevistas e incontroláveis.
Aparentemente, ainda não será desta vez. Não se espere solução rápida para a guerra cambial, mas o G-20 parece disposto a chegar a um “Consenso de Seul” por regras e coordenação que substitua o finado “Consenso de Wash-ington” pela desregulamentação. Sem apoio internacional, os EUA re-cuaram da proposta inicial de limitação rígida dos desequilíbrios de conta corrente e tendem a aderir à proposta alemã de um sistema de “alertas prévios”, indicadores de flexibilidade cambial, protecionismo, subsídios e sustentabilidade a serem considerados. Se depender dos ricos, pelo FMI, mas países como Brasil e China querem monitoração do próprio G-20. Por outro lado, os “emergentes” tendem a apoiar, contra a Europa, a disposição dos EUA de voltarem atrás no compromisso (assumido em junho) de corte drástico dos déficits fiscais e estabilização do endividamento até 2016. A China, apesar da aparente intransigência, pode aceitar uma valorização gradual do yuan.
Parece haver consenso em favor de controles de capitais para conter desequilíbrios. A necessidade de novas moedas internacionais de reserva, que tornariam menos traumática a crise do dólar, está sendo discutida com mais seriedade no BRIC e no Banco Mundial. Está na mesa uma regulamentação internacional para as cerca de 20 maiores instituições financeiras norte-americanas e europeias, que lidam com negócios globais e representam risco para o sistema financeiro internacional. Teriam de se sujeitar a análises minuciosas e manter mais capital em relação a seus ativos. Outros bancos, grandes e nacionalmente importantes, mas de menor peso internacional (como os chineses e japoneses) ficariam sob supervisão local.
O equilíbrio a partir dessa convergência é possível, mas delicado. A nova Câmara de maioria republicana pode bloquear qualquer acordo que convenha a Obama. Se não autorizar o aumento da dívida pública além de 14,3 trilhões de dólares, teto a ser alcançado em abril, forçaria os EUA à moratória. Tal extremo é improvável, mas fica o lembrete de que em tempo de turbulência não se pode contar com que os problemas se resolvam automaticamente. A política é decisiva, o caos está à espreita e, a qualquer momento, os mais sólidos pressupostos dos economistas podem se desmanchar no ar.
Antonio Luiz M. C. Costa – Carta Capital / Foto: Larry Downing – Reuters