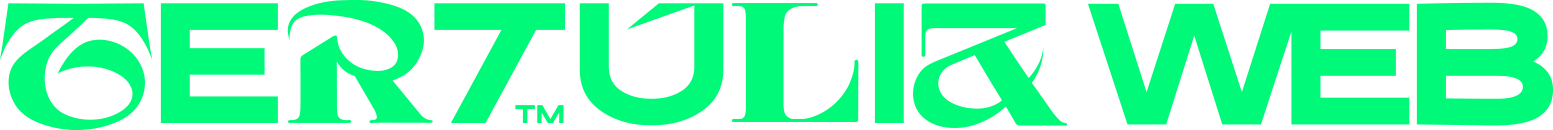Expressões artísticas que contestam centralidade masculina na identidade regional ganham cada vez mais voz

De 2019 até hoje foram quatro edições e, em cada uma, se produziu de 15 a 20 canções feitas por mulheres. “Ele é uma prova de mudança. Já existe um cancioneiro feito por mulheres”, comemora. A partir do Peitaço, canções foram gravadas em álbuns e concorreram em outros festivais. Shana exalta o fato de o festival reunir diferentes gerações de mulheres. “Ouvindo histórias de quem estava lá só como intérprete e que, muitas vezes, não teve oportunidade de apresentar sua música; outras que começaram a abrir esse caminho, que é o caso da minha geração; e as gurias que hoje já não tem esse pudor de se mostrar, apesar de ainda não terem as mesmas oportunidades. Então, eu vejo um crescimento no sentido da participação de mulheres, juntas, fazendo uma manifestação coletiva. Hoje, a gente tem mulheres com show montado, com sua banda, com seu repertório, com seu disco, isso é um crescimento”.
“Os churrascos são de marte, as saladas são de vênus”
Uma das artistas que têm uma trajetória autoral reconhecida é a violinista, etnomusicóloga, pesquisadora e compositora Clarissa Ferreira. Em 2018, ela lançou um single-manifesto em que questionava as figuras do gaúcho e da prenda. Em Manifesto Líquido, escreveu: “eu que me renda/desse destino de prenda/contemporânea gueixa gaucha/dar-se feito oferenda” e o gaúcho definiu como “mito ocidental cansado/de um caubói, um ‘gaucho’ ou um cossaco/semi bárbaro/anti intelectual/mais dos mesmos arquétipos/estilo patriarcal”.
Lançado em 2024, seu álbum de estreia LaVaca recebeu cinco prêmios Açorianos. E seguiu questionando padrões da cultura gaúcha, passando, inclusive, por um dos seus símbolos mais sagrados: “Os churrascos são de marte/as saladas são de vênus”, canta Clarissa em canção sua com poema de Angélica Freitas. O disco traz uma diversidade que vai desde os tambores de candombe até o quarteto de cordas, e também na temática das letras. “LaVaca foi um trabalho em que fui juntando composições que venho fazendo desde 2016. Teve um pensamento de falar de alguns conceitos-chave e trazer a vaca para o centro dessa narrativa. O disco também falou muito na degradação da pampa, desse bioma, como conceito-chave para criar as músicas a partir daí”, explica.
Clarissa tocou violino desde muito nova em espaços dedicados à cultura gaúcha, e a reflexão sobre o papel relegado à mulher nesses locais foi surgindo aos poucos. “Fui me dando conta ao ser uma das poucas instrumentistas nos festivais nativistas e nos CTGs em que eu tocava. Mas fui entendendo isso ao longo do tempo. O início de uma reflexão sobre o feminismo aconteceu já na graduação, nas aulas da professora Isabel Nogueira (do curso de música da UFPel). O tema mesmo foi aprofundando para mim a partir de 2015, em que eu comecei a estudar mais o feminismo e a repensar mais esses espaços, me dar conta dos contextos e as consequências desse patriarcado na música do Rio Grande do Sul”.
Reflexões que a motivaram a compor. “Fui me dando conta das poucas mulheres compositoras da música regional e de como se deu esse entendimento da mulher gaúcha, da prenda, da china, esses conceitos que estão na literatura e na música. Um dos primeiros textos que escrevi foi falando sobre como as mulheres eram retratadas na música gaúcha e também pensando no Festival da Barranca como um espaço onde as mulheres não podem estar. E a consequência de pensar sobre isso também se deu em começar a compor e colocar essas ideias nas canções”, conta. Parte das reflexões de Clarissa também vão para a escrita. O livro “Gauchismo líquido”, lançado em 2022, é uma coletânea de ensaios sobre cultura e identidade gaúchas.
Para a escritora, cantora e compositora, o tradicionalismo vem em um momento de maior abertura para alguns temas. “São ondas de espaços que vai se conseguindo criar, mas que também não são definitivos, é preciso sempre lutar por eles. Já teve uma abertura para se pensar um pouco nas questões de gênero, questões de pessoas homossexuais dentro dos CTGs, é uma discussão que não é tão tabu como antes. Esses espaços estão se tornando um pouco mais abertos, mas, ainda, como é objetivo do tradicionalismo é se conversar algumas coisas, acho que ainda em alguns aspectos da raiz das danças, das músicas, acho que nada mudou nas últimas décadas”.
Mulher pode dançar chula?
Para Emily Borghetti dançar chula sempre foi natural. “Aprendi a dançar chula com minha mãe”, conta. Em alguns espaços do tradicionalismo, no entanto, mulher sapatear ainda é um tabu. A bailarina Cadica Costa, mãe de Emily, dançava em CTGs, mas precisou buscar outros lugares para poder bailar sapateado. “Ela chegou a dançar em CTG por muitos anos, foi primeira prenda. Só que como nos CTGs ela não podia sapatear, ela acabou conhecendo o malambo e o flamenco, que podia sapatear mais e dançava em grupos tradicionais de projeção folclórica. Eu aprendi nessa escola, da vida”.
Apaixonada pela chula, Emily também deu aulas em CTGs, mas nunca pôde ensinar a dança que mais gostava. “O que eu mais me identifico nas danças gaúchas são as sapateadas. Mas dentro dos CTGs tem essa questão de que as prendas não costumam sapatear. Eu comecei a ser chamada para dar aulas para as prendas em CTGs, mas de chula, não, porque as chulas eram os homens que faziam”.
Em 2024, Emily Borghetti lançou o espetáculo Chula, que foi um sucesso imediato, lotando quatro sessões no Teatro CHC Santa Casa. “Chula é uma coisa meio bagaceira, meio vulgar, meio chula. E a minha formação é totalmente bagaceira, é muito chula, porque eu danço todas as coisas. Meu corpo é de todas as minhas vivências”, explica. O trabalho levou a diversos convites. A dançarina chegou a participar de um show de Luísa Sonza no Rock In Rio. Foi convidada também pelo CTG Tiarayú, de Porto Alegre, a participar do Encontro de Artes e Tradição Gaúcha (Enart), com uma apresentação de chula dançada por mulheres. No entanto, um grupo de chuleadores ameaçou fazer uma denúncia, porque não haveria registro na história gaúcha de mulheres dançando com o pau de chula. A apresentação acabou não acontecendo.
Não foi a primeira vez na vida da dançarina em que dançar chula gerou oposição. Quando integrava o projeto Líricas Sulinas, Emily conta que um trecho de uma apresentação foi postado em uma rede social, e gerou uma onda de haters. “Esse tipo de crítica que vem com preconceito, geralmente vem com desrespeito, de uma forma bem ruim. Nas minhas divulgações, às vezes vinha algum comentário ‘mas mulher pode dançar chula?’. Ao mesmo tempo, meu trabalho é para questionar isso. É só uma mulher dançando chula, não deveria ser um problema. Mas, se isso ainda é um problema, a gente precisa falar mais sobre isso. A gente acaba sempre atravessado por questões de gênero e estruturais. O espetáculo em si é sobre o que eu quero fazer, o que eu quero que exista”.
Colocar o tema em debate gera efeitos positivos. Emily atendeu o Sul21 direto de um CTG onde iria apresentar seu espetáculo “Chula” em plena Semana Farroupilha. “Então, sim, teve esse estranhamento, mas hoje a gente está aqui, um dia antes do 20 de setembro, dançando chula num CTG”. A bailarina acredita que para as novas gerações esse tabu faz ainda menos sentido “Esses dias um menino foi num show meu, e ele disse ‘mãe, eu to indo no show da Emily, ela dança chula’. E ela disse: ‘mas mulher dança chula?’ e ele disse “pois é, eu só conheço chula pela Emily’”.
Emily, que tem colaborações com diversas artistas, entre elas Clarissa Ferreira, exalta a importância de haver várias mulheres inspirando umas às outras em meio à cultura regional. “Isso é muito importante porque a gente se sente mais forte. É uma onda muito linda, de identificação. É quase uma reapropriação. É mais do que quebrar estruturas, é construir estruturas que façam sentido”.
Mudanças não significam desprezo pela tradição
As artistas, que contestam certos aspectos da cultura gaúcha, ressaltam que não querem jogar a tradição fora, muito pelo contrário. “Eu não desisti de estar dentro desse cenário. Sigo na batalha dentro dessa linguagem, desse mercado de trabalho. Eu perdi trabalhos por causa da minha opinião, mas eu pago esse preço porque eu quero fazer parte, quero que meus filhos se sintam parte dessa regionalidade. Mas isso não significa que eu não quero que ela seja em algum momento repensada em alguns sentidos”, afirma Shana Müller.
Emily Borghetti conta que seu espetáculo é “cheio de raiz”. “Eu enxergo esse legado como uma grande potência, mas eu também entendo que o legado a gente segue construindo, eu não acho que as coisas foram só até um momento e tudo, a partir dali, é só uma repetição. Eu quero ter esse trabalho porque eu amo esses temas, é a partir da identificação, do afeto, porque eu enxergo potência nessas coisas, claro que tem coisas que eu não concordo e que eu não reproduzo. Esse lugar da virilidade, da macheza, da brabeza, de que gaúcho é brigão. Eu não acredito que a representação da mulher na cultura gaúcha tenha que ser só de uma forma, a gente vai só representar a prenda, que espera o homem que volta da guerra. Tem tantas outras narrativas que a gente perde quando coloca nesse lugar, que é muito limitado, e que, na verdade, não foram as mulheres que se colocaram. O movimento é tomar para si as rédeas da própria construção, construir as coisas que a gente quer que existam”.
Fonte: Felipe Prestes / Sul 21